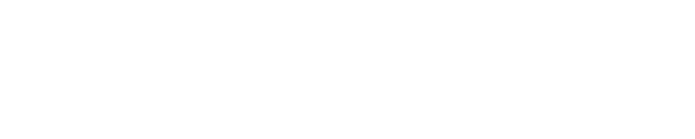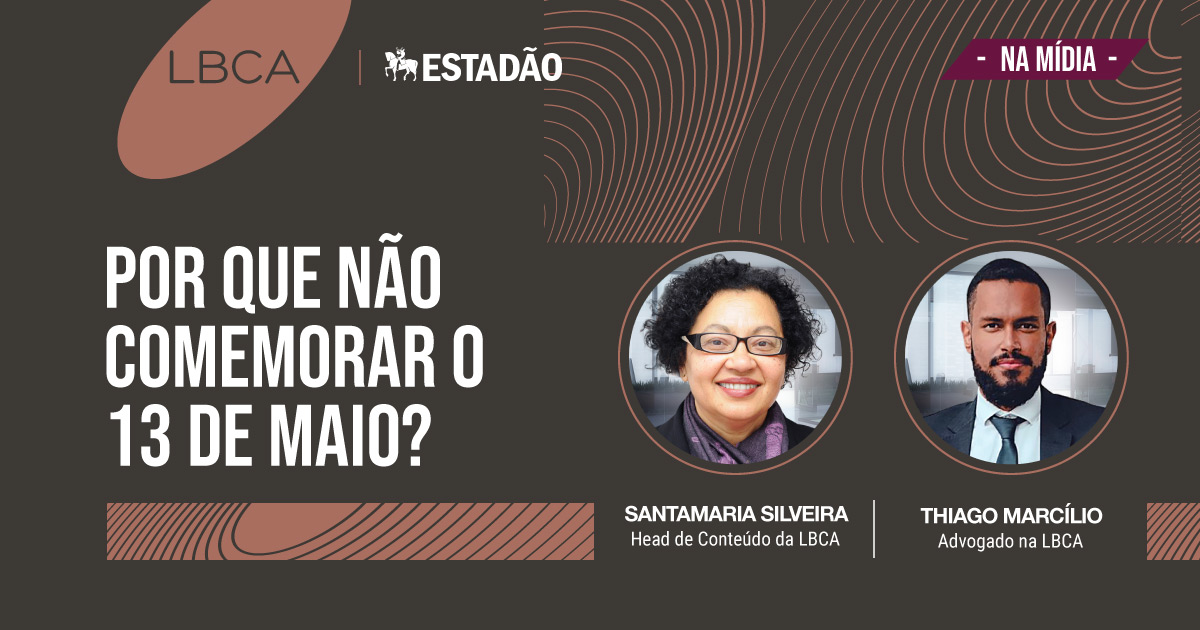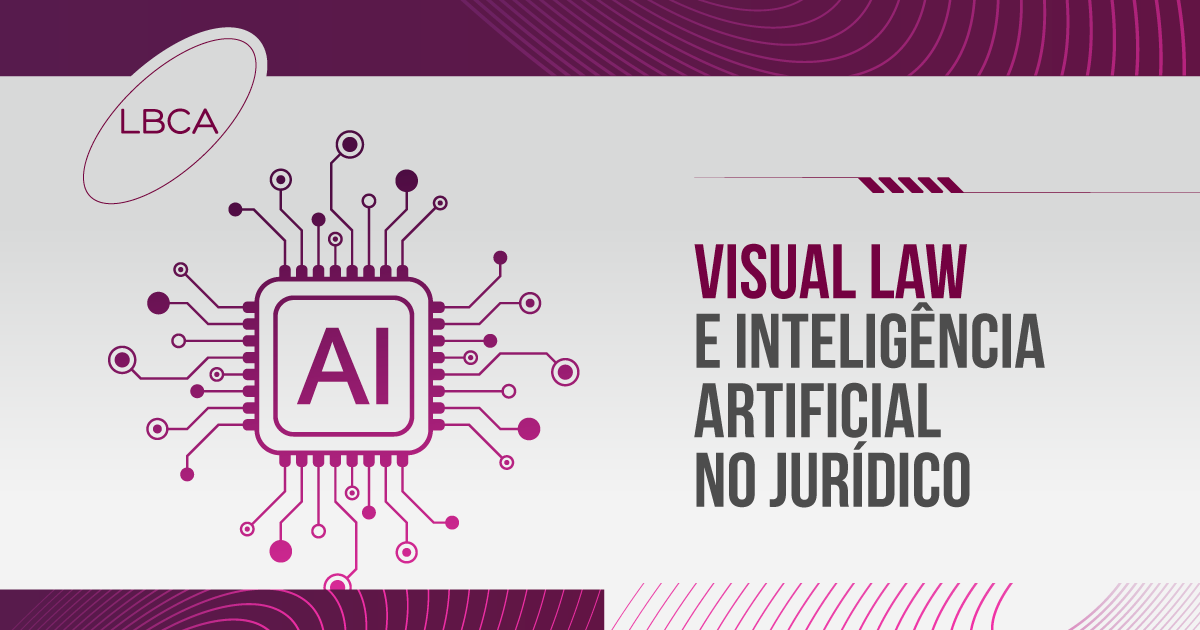Assim como muitos negros norte-americanos se negavam a celebrar o 4 de julho (Dia da Independência dos Estados Unidos), muitos pretos brasileiros não comemoram o 13 de maio (Dia da abolição da escravatura), a não ser como data de luta contra o racismo estrutural. Esse paralelo sobre a liberdade é interessante, embora a realidade das pessoas escravizadas no Brasil e nos Estados Unidos e os contextos históricos dois países sejam diferentes.
O conceito de liberdade vem se transmutando ao longo da história humana e por diferentes esferas de saberes, mas cada ser humano conhece seu valor vital, imperativo, plasmado no sentido da própria existência. Por isso, certamente, terá sido intenso o terror dos africanos escravizados.
Eles foram sequestrados em seu continente e trazidos para uma terra estranha, as Américas, condenados à desumanização e à servidão no campo, nas culturas que sustentavam a economia colonial.
Um dos raros depoimentos é de Mahommah Gardo Baquaqua, escravizado no Brasil e libertado por abolicionistas norte-americanos: “Fomos jogados no porão do navio em estado de nudez´´.
“Os machos sendo amontoados de um lado e as fêmeas do outro; o porão era tão baixo que não conseguíamos ficar de pé, mas éramos obrigados a nos agachar no chão ou sentar; o dia e a noite eram iguais para nós, o sono nos era negado devido à posição confinada de nossos corpos, e ficávamos desesperados devido ao sofrimento e à fadiga“.¹
Nos Estados Unidos há uma tradição, mantida até hoje, de leitura do famoso discurso do abolicionista, jornalista e escritor negro, Frederick Douglass, explicando que a liberdade constitucional irrestrita até então não era para todos porque excluía a população preta, só viria com a 13ª Emenda à Constituição americana (1865).
Douglass nasceu escravo e conquistou sua liberdade fugindo disfarçado de marinheiro para Nova York. Tornou-se um grande orador, com forte influência na luta pela abolição dos norte-americanos.
A contundência do discurso de Douglass², realizado há mais de 170 anos, durante o ato de aniversário de assinatura da Declaração da Independência Americana – data eivada de manifestações patrióticas – ajuda a entender o legado da escravidão, que endossa a opressão, a violência, a sujeição humana, a violência desmedida, a dor. Depois de mais de um século e meio, esse discurso contribui para fomentar o debate sobre o racismo estrutural, incluindo negros e não negros.
Para Douglass, “onde a justiça é negada, onde a pobreza é aplicada, onde a ignorância prevalece, e onde qualquer classe é levada a sentir que a sociedade é uma conspiração organizada para oprimi-los, roubá-los e degradá-los, nem pessoas nem propriedades estarão seguras“. Para Douglass, os crimes cometidos durante a escravidão devem ser denunciados.
LEIA TAMBÉM:
- Impacto da Convenção contra o racismo no ambiente laboral
- O viés racista dos álbuns de reconhecimento nos distritos policiais
No Brasil, os crimes do período escravocrata foram silenciados de várias formas e não cessaram em dia 13 de maio de 1888, uma vez que o “cativeiro” continuou mantido no país contra a população preta de várias formas. Assim como os Estados Unidos, no Brasil também vigorava uma política da escravidão rigorosamente sustentada por uma sociedade escravista e intolerante.
Mesmo depois de o tráfico escravista ser considerado ilegal, o Estado brasileiro manteve o comércio atlântico ilegal de escravos de 1845 a 1850. O ordenamento jurídico brasileiro reuniu a Lei Feijó (1831), que considerava livres os africanos desembarcados no Brasil, seguida pela Lei Eusébio de Queirós (1850), que proibia o tráfico de escravos para o país. Foram usadas como argumentos legais para o advogado preto, Luiz Gama, obter na Justiça a liberdade de centenas de escravizados.
Na prática, esses diplomas legais se traduziram em farsas. Continham apenas uma resposta oficial do Brasil às pressões do governo britânico para acabar com o comércio do tráfico negreiro, uma vez que os britânicos estavam interessados em fomentar um novo tipo de economia capitalista, que dependia de mercados consumidores. Mas o Brasil continuou a prática do tráfico negreiro, suprindo demandas em diferentes Estados brasileiros e dando origem à expressão “para inglês ver“.
O Brasil acabou arrefecendo o tráfico transatlântico de escravos, depois do aprisionamento de navios negreiros pela marinha britânica, abrindo uma nova frente – o tráfico interno, interprovincial, intraprovincial e local, muito temido pelos escravos.
O Brasil e os Estados Unidos , enquanto países de grandes dimensões, criaram um fluxo de deslocamentos forçados de pessoas escravizadas para regiões carentes de trabalho escravo. O Brasil iniciou a chamada segunda escravidão, principalmente para o mercado centro-sul cafeeiro.
Até 13 de maio de 1888, houve atenuantes à escravidão, como a Lei do Ventre Livre (1871), que aplacava em parte as críticas à escravidão e interessava aos escravistas por que lhes permitia explorar os filhos das escravas por até 21 anos.
Em sentido contrário, a luta abolicionista era impulsionada por elites políticas e econômicas e pela imprensa mais progressista, tanto que até o jornal da comunidade britânica no Brasil (Anglo-Brazilian Times) elogiava os esforços do advogado Luiz Gama para libertar pessoas ilegalmente escravizadas.
A partir da década de 1870, a política senhorial de alforrias também se ampliou para apaziguar o descontentamento dos movimentos libertários que cresciam, mas cabia ao senhor escravista decidir quando e em que condições alforriar. Também eram comuns as artimanhas jurídicas utilizadas para reescravizar ex-escravos, levando os advogados abolicionistas a buscar novas provas, como falta de matrícula, incompetência de foro, promessa e cartas de liberdade deixadas pelos senhores.
Quem pensa que as pessoas escravizadas no Brasil eram vítimas basicamente de castigos cruéis, uma prerrogativa senhorial, esquece que os linchamentos de negros não aconteceram apenas nos estados sulistas norte-americanos, como o Mississippi; mas também no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Enfim, todas as formas de violência contra os negros cativos foram naturalizadas durante o período da escravatura brasileira, que durou 354 anos.
A partir de 13 de maio de 1888, quando é assinada a Lei Área, calcula-se que 7 milhões de negros deixaram a condição de escravos para serem pessoas livres, mas sem direitos e quaisquer perspectivas de sobrevivência.
Passaram por um processo histórico de abandono econômico e de exclusão social, estabelecido por regramentos prévios, como a Lei de Terras (1850), que tornou ilegal invadir ou ocupar terras, impedindo que os escravos libertos promovessem uma transição para o trabalho livre, mas manteve-os como mão de obra barata para os proprietários de latifúndios, que detinham o monopólio das grandes propriedades.
Com explica o sociólogo, professor inesquecível e ativista, Florestan Fernandes, os escravos libertos não tiveram “assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre.
Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho“. Todos esses fatores ” imprimiram à Abolição o caráter de uma espoliação extrema e cruel“. Além disso, o libertos ainda tiverem de disputar um mercado de trabalho com os imigrantes europeus, sempre priorizados.³
A historiografia da escravidão no Brasil, no entanto, possui uma lacuna, que jamais será preenchida, com a destruição de documentos, determinada pelo então ministro da Fazenda do governo provisório de Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, logo após a abolição da escravidão. Ele determinou a queima dos Livros de Matrícula dos escravos, controle aduaneiro e recolhimento de tributos para que os senhorios não pleiteassem uma indenização do governo a partir da decisão de abolir a escravidão.
A matrícula de escravos era o documento de propriedade, um registro legal. Havia diferentes tipos de matrículas de escravos: as parciais, aquelas com fins fiscais e especiais e as voltadas aos africanos trazidos ao Brasil depois da proibição do tráfico negreiro. A matrícula implicava em alistamento no Município e na Mesa de Coletorias, incluindo nome, sexo, cor, idade sabida ou presumida e naturalidade.
Os senhores de escravos pagavam uma taxa para o governo imperial. A matrícula era o registro de identificação mais completo sobre a política de escravidão e a população escravizada do país.
Sua intenção foi a de “acabar com essa nódoa social” e “destruir vestígios por honra da Pátria, tudo em “em homenagem aos nossos deveres de solidariedade“.4A portaria de Rui Barbosa, invocou o artigo 11 do decreto 370/1890. 5Incapazes de queimar os escravos, os herdeiros da dívida pública viram-se obrigados a destruir os liames entre escravizador e escravizados.
Essa medida, guardada a distância do tempo, não se afasta da Operação Clausewitz, deflagrada pelo governo nazista em 20 de abril de 1945, às vésperas da rendição alemã. Conscientes de que havia provas do Holocausto foi determinada a queima de documentos, os quais somente não se perderam em razão de cópias encontradas em outras localidades.
Artigo contra artigo, bastou uma frase, para que provas incontestes do tráfico de escravos, ilegal diante das normas anteriormente citadas, se perdessem de forma definitiva. O artigo 1º da Lei Áurea se fez menor no choque com o artigo 11 do Decreto 370/1890.
Em edição histórica de 21 de dezembro de 1890, o jornal O Estado de S. Paulo questionou a decisão de Ruy Barbosa de destruir os documentos relativos à escravização brasileira e externou a perplexidade de toda a sociedade: “Que direito tem o ministro de destruir documentos que, mais do que aos arquivos das repartições, pertencem à história“.
A Vila de Araraquara, no interior de São Paulo, parou no tempo e guardou por quase 150 anos contratos de compra e venda de pessoas que foram escravizadas em razão da cor de sua tez. Mais de 500 documentos sobre o processo de escravização de pessoas pretas, incluindo documentos de compra e venda foram resgatados por uma força conjunta formada pela [OAB Araraquara].
Nas folhas 24 e 25 é possível localizar que na data de 13 de junho de 1875 a transação abaixo foi realizada:
Vendedor: Ezequiel Peres de Moraes, morador deste.
Comprador: Major Joaquim Duarte Pinto Ferraz, morador deste.
Escravos: Bibiana, preta, 22 anos, José, Preto, 7 anos, de Minas, Bernardino, 1 ano
(José e Bernardino são filhos de Joaquim e Bebiana).
Valor: 3:500.000 de contos de réis
A compra de uma família já foi considerada uma banalidade. Escravos modernos não existem, diz nosso imaginário coletivo. Mas bem me recordo da escrita do professor Tércio Sampaio Ferraz Junior, quando ele indica que instituições herdam elementos umas das outras. O mesmo se passa na sociedade. O cotidiano pode reverberar inúmeras maldades banais.
O sufocamento de medidas históricas não é mais do que uma “indesculpável imprudência, retardando uma reparação nacional; ferimos de morte o patriotismo, e menosprezamos, diante do estrangeiro, o pudor brasileiro” (adaptado de O caminho da Liberdade, de Luiz Gama, 1880)
Se não conhecemos as opressões, tiranias e violações que as pessoas escravizadas sofreram Brasil, mais difícil será denunciar as barbáries da escravidão, como Frederick Douglass ensinou e que é direito do povo brasileiro conhecer, seja para repudiar e/ou reparar.
¹https://library.brown.edu/create/fivecenturiesofchange/chapters/chapter-2/african-slavery/
³A integração do negro na sociedade de classes. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4482634/mod_resource/content/1/Florestan%20Fernandes%20-%20A%20integra%C3%A7%C3%A3o%20do%20negro%20na%20sociedade%20de%20classes%20-%20Vol%20I%20-%20O%20legado%20da%20ra%C3%A7a%20branca-1.pdf
4.Obras completas de Rui Barbosa, Vol. XVII, 1890, tomo II, pp. 338-4
5.”Paragrapho unico. Os livros do registro sob o n. 6, nos quaes era transcripto o penhor de escravos, serão incinerados, e si delles constarem outros registros, estes serão transportados com o mesmo numero de ordem para os novos livros de ns. 2, 4 ou 5.”Decreto 370/1890. Coleção de Leis Hipotecárias. P. 3. Disponívele em: https://arisp.files.wordpress.com/2007/11/decreto-370-2-de-maio-de-1890.pdf
*Santamaria N. Silveira é jornalista, doutora em comunicação social pela USP, gerante de conteúdo e presidente do Subcomitê Afro da Lee, Brock, Camargo Advogados
*Thiago Marcilio é advogado da Lee, Brock, Camargo Advogados, mestre pela PUC-SP, pós-graduando em Direito Digital e Inovação pela PGE-SP. Pesquisador do C4AI-USP-IBM-FAPESP e do Ethics4AI do IDP-Brasília